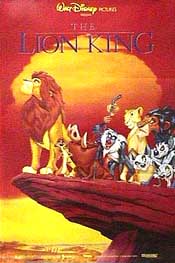Em uma casa de jogos de Londres, dois jogadores se destacam: uma mulher morena, de vestido vermelho e cabelos cheios amarrados por trás da cabeça, tipo coque, e um homem de trinta e poucos anos, usando smoking.
- Admiro sua coragem, senhorita... – ele diz. A câmera exibindo as mãos dele pegando um cigarro.
- Trench. Sylvia Trench. – ela se apresenta, olhando para a mesa – Admiro sua sorte, senhor...
Com o isqueiro, acendendo o cigarro:
- Bond. James Bond.
A música-tema de fundo, o ambiente esfumaçado, o olhar lateral à câmera. 1962. É a primeira aparição do espião inglês nos cinemas. Quem o interpreta é o ator Sean Connery. O filme,
007 Contra o Satânico Dr. No.
Criado pelo escritor Ian Fleming nos anos 50, James Bond é um agente secreto, também conhecido pelo código 007 (o duplo zero significa que ele tem licença para matar), que trabalha no serviço de espionagem e inteligência britânica. Nas palavras do autor, que foi agente do serviço secreto britânico durante a Segunda Guerra Mundial - experiência significativa para a caracterização de seu personagem mais famoso:
“James Bond tem 1,82 metro de altura e trinta e poucos anos. É moreno, de uma beleza cruel e olhos azul-acinzentados claros”.
Adaptá-lo à tela grande logo se mostrou um desafio. Para o papel foram cogitados diversos atores: Roger Moore – o preferido de Ian Fleming estava comprometido com uma série de televisão -, Max Von Sydiw, Cary Grant, Trevor Howard, Rex Harrison. O escolhido foi o pouco conhecido ator escocês Sean Connery, o eterno 007, para a maioria dos fãs.
Bond vai à Jamaica para investigar quem estava interferindo nos lançamentos de mísseis norte-americanos. É assim que ele chega a Dr. No (Joseph Wiseman), um cientista perito em física nuclear que chefia uma organização criminosa em uma ilha particular no Caribe. Bond conta com a ajuda de um agente da CIA, um nativo e de Honey Ryder (Ursula Andress). Saindo da água do mar, com cabelos loiros molhados e biquíni branco, ela surpreende-se com o homem que a observa (“Quem é você? Fique onde está!”). O surgimento da atriz no filme é um dos momentos de destaque na filmografia de mais de vinte filmes que o agente secreto já protagonizou.
A direção de Terence Young – que trabalhou em outros três filmes de 007 - exibe cortes secos nos momentos de ação. A mistura imagem e áudio provoca, em muitas cenas, o efeito desejado, como na seqüência em que o herói tem que enfrentar uma tarântula: música atingindo picos agudos e closes no rosto suado, junto com imagens da aranha subindo, provocam aflição.
A produção, de orçamento de cerca de um milhão de dólares (para os padrões da indústria cinematográfica, uma bagatela) estourou nas bilheterias, transformando Sean Connery em astro e James Bond em ícone da cultura pop. Os filmes que se seguiram, a partir de 007 Contra o Satânico Dr. No, seguem a fórmula que deu certo. 007 tem carisma, charme e elegância. Atributos que contrastam com a personalidade violenta – em uma cena ele mata sem dó um capanga desarmado de Dr. No -, as atitudes machistas – mulheres vistas como objeto sexual – e o cinismo.
Na larga filmografia, que se estende por diversos períodos históricos, os vilões são sempre inimigos do Ocidente (Dr. No é chinês). Os personagens, inclusive o herói, são estereotipados; as mulheres são todas beldades e os filmes, puro entretenimento. A história é um acessório – assim como os gadgets tecnológicos de Bond – para o divertimento do espectador. A eficiência de
007 Contra o Satânico Dr. No em divertir com qualidade.