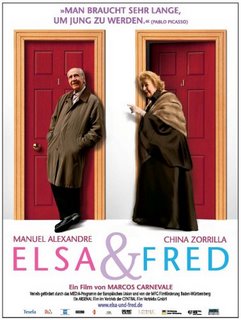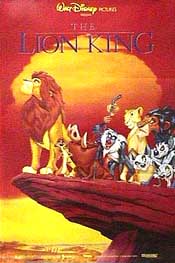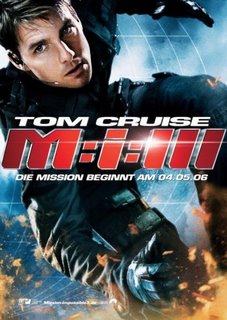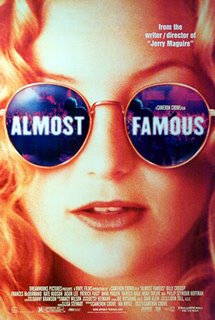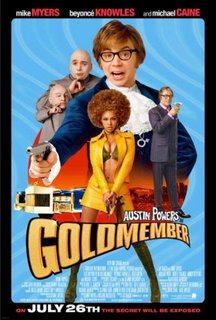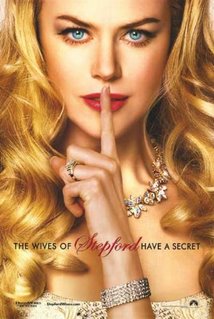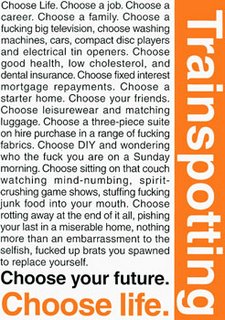Little Miss Sunshine é um caso típico de filme barato – para os padrões da indústria – que se sobressaiu e conquistou espectadores e a crítica. Com um orçamento de US$ 8 milhões, esse projeto é um exemplo de luta e determinação. Os realizadores demoraram cinco anos para finalizar o filme, justamente por problemas financeiros. Mas a espera valeu a pena: Little Miss Sunshine arrecadou cerca de US$ 50 milhões apenas nos Estados Unidos.
Os diretores estreantes Jonathan Dayton e Valerie Faris – pelo roteiro original de Michael Arendt – contam a história de uma família norte-americana. O pai, Richard (Greg Kinnear) tenta lançar um livro de auto-ajuda através da técnica “9 passos para o sucesso”. Para ele, todas as pessoas do Universo se dividem em dois grupos: os vencedores e os perdedores. A mãe, Sheryl (Toni Collette), é a mediadora dos temperamentos à flor da pele que toma conta dos membros da família. O avô (Alan Arkin) usa drogas e só pensa em mulheres. O tio, Frank (Steve Carell), é homossexual e vai morar com a família Hoover depois de ter tentado o suicídio. O irmão mais velho, Dwayne (Paul Dano), que faz voto de silêncio até conseguir se tornar piloto da Força Aérea Americana. E, por fim, a pequena Olive (Abigail Breslin), a caçula. A história vai unir a família rumo a um concurso de beleza no qual Olive tem o sonho de participar: o “Pequena Miss Sunshine”.
Para isso, eles vão pegar uma kombi e atravessar os Estados Unidos, dirigindo até o destino final. Nessa jornada, quem ganha destaque é, justamente, Olive. É ela quem une todas as pessoas da família e ela todo mundo respeita. É o poder da filha caçula.
As brigas são freqüentes, mas nada se compara ao drama de Dwayne. Usando camisetas do tipo “Jesus estava errado”, o garoto usa cabelos quase tapando os olhos e odeia tudo, inclusive a própria família. O não-falar dele é angustiante, pois sabemos que ele tem muito a dizer e não diz. Pior, ele vai guardando sentimentos tão fortes que acaba se corroendo por dentro. É aí que surge o talento de Paul Dano (injustamente não indicado ao Oscar). Toda a angústia e rancor do personagem são passados ao espectador, de modo que não condenamos o garoto por seus atos de ódio, mas desejamos urgentemente que ele se recupere, solte aquilo que sente. Temos vontade de gritar por ele e isso nos causa aflição, sobretudo quando o garoto anota em um bloco de notas aquilo que deseja comunicar. Como na cena em que, percebendo que a mãe começa a chorar ele simplesmente escreve no bloco “vá abraçar a mamãe” e mostra para a irmã. Ele, que estava ao lado da mãe, é incapaz de abraçá-la ou demonstrar um gesto de afeto por achar que aquilo seria um gesto de fraqueza de sua parte.
O filme é daqueles que valorizam muito a interpretação. Assim, os atores têm matéria-prima farta para desenvolver seus personagens, o que o fazem com eficiência. Mas o grande destaque fica mesmo por conta da pqeuena Olive. Abigail Breslin a interpreta com tamanha doçura e carisma, que dado momento da projeção nos vemos naturalmente torcendo para ela e nos emocionando com isso. A garota une a família Hoover e também une o espectador com o filme.
Há apenas um aspecto que destoa do resto da produção. No final, o que acontece com Dwayne não é coerente com o personagem que fomos conhecendo no decorrer da trama. Ele vai evoluindo e se transformando, mas depois parece que o roteirista se entrega à simpatia que o filme adquire e esquece de dar um contorno lógico ao personagem.
De qualquer forma, Little Miss Sunshine é muito interessante de se assistir. Um filme não só agradável, mas de certa forma reflexivo: como cuidamos da nossa família? O que significa fazer parte de uma família e zelar por ela? Afinal de contas, a família – e não me refiro somente aos laços sanguíneos - é o princípio de tudo, a base de tudo aquilo que pretendemos construir.
O filme foi indicado aos Oscar de Melhor Filme, Ator Coadjuvante (Alan Arkin), Atriz Coadjuvante (Abigail Breslin) e Roteiro Original. Os diretores são um casal, e não sei por que cargas d´ água não foram indicados. O melhor filme não deveria ter o melhor diretor? A visão que tiveram do enredo foi, talvez justamente por serem marido e mulher, balanceada sob o ponto de vista da família. Conseguiram fazer um filme emocionante, sensível e independente.
Mais: destaque para a cena comovente que mostra os irmãos sentados e, ao fundo, o resto da família e a Kombi – que vira um personagem com a função de agregar todos os outros.